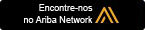Belém tornou-se no epicentro das discussões climáticas globais junto à COP30 e, com ela, cresce a sensação de que chegamos a um ponto de saturação das conferências internacionais: já ouvimos promessas demais, anúncios demais, compromissos demais. A sensação de déjà-vu se repete todos os anos, com metas ambiciosas apresentadas pela manhã, disputas diplomáticas à tarde, frustrações discretas à noite. No entanto, há algo diferente no ar desta vez. A COP30 carrega consigo um elemento que pode alterar a própria arquitetura da governança climática: o avanço acelerado das tecnologias digitais, hoje consideradas indispensáveis para transformar ambições em verificações e intenções em resultados.
O fato de a conferência ocorrer no coração da Amazônia não é apenas gestual. É a primeira vez que o maior bioma tropical do mundo, frequentemente tratado como símbolo, torna-se o palco concreto de um encontro desse porte. Mas a escolha do território vem acompanhada de controvérsias: a infraestrutura limitada de Belém, a explosão nos preços de hospedagem, a construção da chamada “Avenida Liberdade”, que corta áreas de vegetação e expõe contradições entre discurso e prática. Para críticos, a COP30 pode ser apenas uma vitrine. Para propositores, foi a chance de transformar o Brasil em laboratório vivo da transição ecológica.
No centro desse debate está uma questão que perpassa governos, empresas, ONGs e comunidades: como garantir que os compromissos ambientais sejam, de fato, monitoráveis, auditáveis e verificáveis? Essa não é uma preocupação secundária. Sem mecanismos sólidos de transparência e rastreabilidade, o mercado de créditos de carbono perde credibilidade; programas de pagamento por serviços ambientais se tornam suscetíveis a fraudes; e relatórios de emissões permanecem vulneráveis a manipulações políticas. Como mostram estudos recentes e iniciativas já em curso no Brasil — do painel do Plano de Transformação Ecológica ao Registro Nacional de Créditos de Carbono — a confiança institucional se tornou tão importante quanto os fluxos financeiros.
É nesse contexto que reaparece a força de uma ideia defendida há anos pelo pesquisador e empreendedor Don Tapscott: a “trivergência” entre inteligência artificial, blockchain e Internet das Coisas. Segundo Tapscott, essas três tecnologias, quando combinadas, não geram apenas inovação incremental, mas um novo sistema operacional para a sociedade. Isoladas, já são poderosas. Interconectadas, podem reconfigurar por completo a forma como medimos, executamos e fiscalizamos ações coletivas — incluindo aquelas ligadas à crise climática.
A trivergência funciona, em essência, como um circuito de integridade. A IoT (Internet das Coisas) coleta dados ambientais no campo (sensoriamento de solo, umidade, qualidade da água, alertas de incêndio, medições de desmatamento). A inteligência artificial processa esses dados, detecta padrões, identifica anomalias, antecipa riscos e produz modelos preditivos sobre mudanças no uso da terra, vulnerabilidade climática ou perda de biodiversidade. E a blockchain garante que o registro desses dados seja resistente à adulteração, formando trilhas de auditoria confiáveis para mercados de carbono, investidores, governos e comunidades. Não é exagero afirmar que essa combinação é um divisor de águas para o monitoramento, relato e verificação (MRV) ambiental, o calcanhar de Aquiles das COPs anteriores.
O Brasil encontra-se em posição privilegiada para liderar essa agenda. Nos últimos anos, surgiram no país projetos que unem certificação ambiental, auditoria independente e blockchain para rastrear créditos de carbono ou estoques de vegetação nativa, como iniciativas no Cerrado que buscam evitar a sempre temida dupla contagem. Outras experiências empregam tokentização e registros distribuídos para garantir transparência em pagamentos por conservação florestal. Na Amazônia, sensores e satélites são cada vez mais utilizados para monitorar mudanças no uso do solo, enquanto redes de pesquisadores e órgãos ambientais começam a integrar inteligência artificial às suas rotinas de análise.
A COP30, portanto, ocorre em um momento em que a infraestrutura tecnológica começa a se alinhar ao discurso político. O desafio, como sempre, reside na capacidade de fazer com que essa infraestrutura seja utilizada de maneira responsável, inclusiva e territorialmente sensível. Tecnologias, afinal, nunca são neutras. O uso de blockchain ou IA na Amazônia pode fortalecer a governança local e empoderar comunidades, mas também pode, se implementado sem diálogo, reforçar desigualdades, criar dependências ou impor modelos externos de desenvolvimento.
É importante lembrar que a capacidade técnica de registrar dados de forma imutável não resolve, por si só, o problema da qualidade desses dados. Uma blockchain não corrige estimativas infladas, sensores mal calibrados ou metodologias fracas. Tampouco substitui a necessidade de instituições sólidas, regulações claras e participação social efetiva. O entusiasmo tecnológico não deve obscurecer uma realidade básica: sem vontade política, nenhuma inovação conseguirá impedir o avanço do desmatamento, das queimadas ou das emissões industriais.
Ainda assim, seria um erro subestimar o potencial transformador da trivergência tecnológica. Pela primeira vez, governos e sociedade dispõem de ferramentas capazes de acompanhar processos ambientais quase em tempo real, com precisão, auditabilidade e ampla capacidade de integração. A promessa de integrar sensores de campo a redes blockchain, garantindo pagamentos automáticos e transparentes a agricultores familiares e povos tradicionais, pode mudar radicalmente o equilíbrio econômico entre destruir e conservar. A possibilidade de que mercados de carbono tornem-se confiáveis, interoperáveis e rastreáveis (algo discutido na própria proposta brasileira de integração aberta desses mercados), pode desbloquear investimentos bilionários em adaptação e mitigação. A articulação entre satélites, IA e registros distribuídos abre caminho para sistemas de governança ambiental que não dependem exclusivamente de interpretações políticas.
O que se espera da COP30 é justamente a disposição de transformar esse potencial em estratégia nacional e internacional. Belém tem a chance de mostrar não apenas discursos, mas demonstrações práticas: protótipos funcionando, bases de dados abertas, acordos vinculados a métricas verificáveis, consórcios entre universidades, startups, governos e comunidades. A Amazônia, além de um símbolo, pode se tornar o cenário em que modelos de governança digital e ambiental são testados em escala real.
Mas para que isso aconteça, é preciso resgatar uma pergunta que costuma ficar à margem nos debates tecnológicos: a tecnologia a serviço de quem? De que tipo de desenvolvimento? Com qual modelo de governança e justiça? Se a COP30 pretende deixar um legado duradouro, será necessário garantir que a digitalização da governança ambiental não reproduza a mesma lógica histórica de extração: dados e ativos fluindo para fora da região, enquanto o desenvolvimento territorial continua estagnado. A tecnologia só cumprirá seu papel se reforçar a autonomia dos povos da floresta, ampliar sua capacidade de decisão e garantir que sejam protagonistas da transição ecológica.
Ao final, talvez o maior mérito da COP30 seja a possibilidade de inaugurar uma nova fase: a fase em que a transparência não é mais opcional; em que metas ambientais não podem ser diluídas em relatórios sem lastro; em que dados substituem narrativas; em que a sociedade pode acompanhar, quase de forma síncrona, o que governos fazem (ou deixam de fazer). Uma fase em que a convergência tecnológica (entre si e entre a tecnologia e a natureza) deixa de ser teoria e se torna prática cotidiana.
Resta saber se o mundo e o Brasil, em particular, estão dispostos a realizar esse salto. Porque desta vez, diferentemente das COPs anteriores, a distância entre discurso e ação talvez esteja mais ligada à coragem política do que à capacidade técnica. E é isso que fará da COP30 um marco transformador — ou mais um capítulo de promessas adiadas.